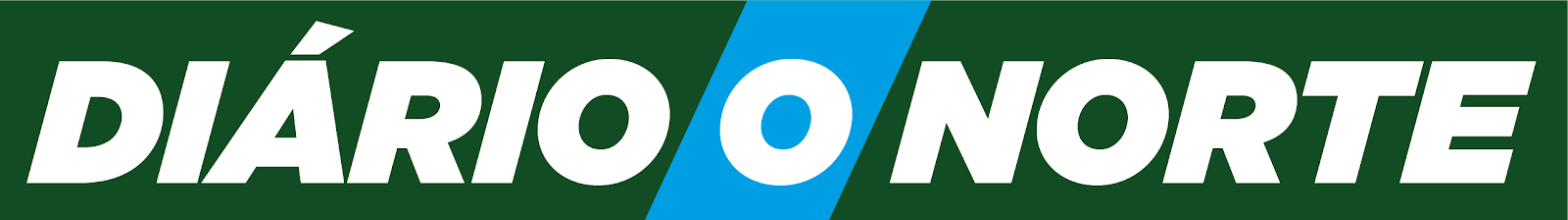(Para o cantador da vida José Valdir Pereira, um preservador de memórias)
Silvio Persivo
Vou me valer do candomblé, que nos lembra uma verdade profunda: a morte não é um fim abrupto, mas uma transição. "Continuidade, não fim" é a essência que guia a compreensão de Orum, o espaço onde a pessoa se transforma em ancestral. Nesta visão, a morte é parte de um ciclo vivo, em que o indivíduo não desaparece, mas ingressa em uma nova função dentro de um todo que permanece. O guardião Iku, nesta tradição, emerge como a força que conduz os espíritos. Não é visto como inimigo nem como algo externo ao equilíbrio natural; é parte do vasto ecossistema espiritual que sustenta a ordem do cosmos. Esta percepção aproxima a morte da própria vida, em uma dança contínua que mantém a harmonia entre o que foi e o que será.
Por isto o uso do branco no luto, associado a Oxalá, simboliza paz, pureza e proteção. É a cor que acolhe a passagem, marcando o momento de transição com uma energia de serenidade. Os cantos, rezas, oferendas e a presença coletiva atuam como bússolas emocionais e espirituais, oferecendo consolo, sentido à perda e acolhimento aos enlutados. Nessas práticas, o laço entre os vivos e os falecidos não se rompe; ele se transforma e se expande pela ancestralidade que nos conecta. A ideia de que laços são eternos pode soar paradoxal frente ao impulso humano por explicações racionais. É verdade que, quando nos faltam explicações, criamos lendas, crenças e mitos. Mesmo assim, muitos de nós, que tentamos ser mais céticos, reconhecemos uma transformação fundamental na maneira de entender o mundo: Lavoisier nos lembra que “nada se perde tudo se transforma”. Assim, a memória, a presença dos ancestrais e a prática espiritual continuam vivas dentro de nós, moldando escolhas, valores e identidades. Neste sentido, a crença na continuidade não é apenas consolo; é uma forma de preservação do que nos torna humanos.
Esta visão não nega a ciência; pelo contrário, a coloca em diálogo com ela. A percepção de que a consciência pode permanecer de alguma forma, seja na memória coletiva, na herança de ensinamentos ou na continuidade de rituais, resiste à dissolução absoluta. Mesmo quando sentimos o peso da ausência, a lembrança, os ensinamentos e o legado daqueles que partiram permanecem. E é neste sentido que a ideia de eternidade se aproxima da nossa experiência cotidiana: não como imutável imortalidade física, mas como uma presença contínua que se reencontra na prática, no afeto e no compromisso com o bem comum. Em última análise, a experiência humana de luto e memória se entrelaça com a sabedoria ancestral que preserva a paz, a dignidade e o sentido da vida. O Candomblé oferece, assim, não apenas um ritual de despedida, mas um mapa para entender a continuidade: a morte como passagem, a ancestralidade como presença, e a prática coletiva como abrigo que nos impede de nos perdermos no vazio, que a ciência diz que é o nosso fim, ser o que fomos: matéria sem consciência.
Numa forma simples de dizer: penso que sim, a continuidade da vida, em sentido amplo, nos torna eternos. A partir desta percepção, a “ausência”, com a morte não estarei aqui, não é o fim do ser, mas a passagem para uma forma de presença que molda quem somos. No entanto, reconheço o peso da mudança-a percepção de que vou sentir muita falta da consciência que temos do mundo, do nosso senso de eu e do nosso tempo partilhado com os outros. Isto é a vida e também a morte. Afinal vivemos morrendo e acumulando, enquanto possível, memórias.